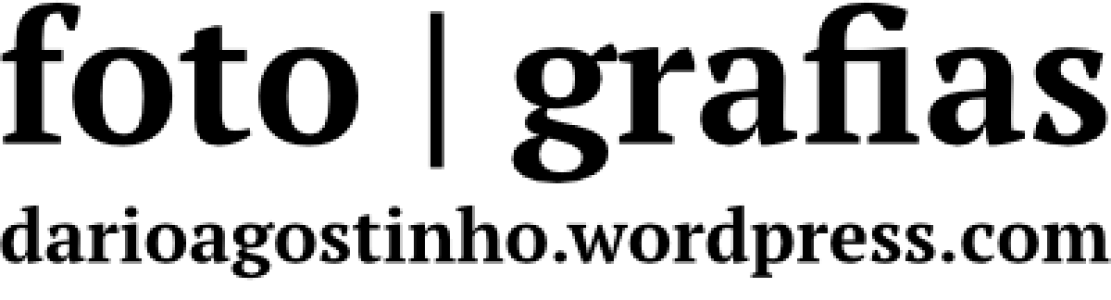O Olhar Alterado
O olhar fotográfico é um olhar alterado. A visão humana não vê da mesma forma como o que nos é mostrado numa fotografia. Nem com plena nitidez em todo o plano, nem com nítido desfoque do que antecede e está atrás do que foca. Talvez seja este o motivo elementar pelo qual tanto nos maravilha e fascina a imagem fotográfica. Através da câmara a humanidade criou um olhar diferente e que transcende o seu próprio. Não obstante esta compreensão ter surgido relativamente cedo na história do meio, durante muito tempo as particularidades desse olhar foram encarados como limitações ou mesmo como deficiências da fotografia. O modelo pictórico era o arquétipo dos arquétipos e tudo se fez para o reproduzir e inclusive superar. Não é que daqui tenha resultado mal algum para a fotografia. O determinismo cultural é inevitável e há sempre um caminho a percorrer. Com efeito, muito de belo e relevante nos chegou desses tempos – veja-se por exemplo os magníficos trabalhos publicados por Stieglitz entre 1903 e 1917 na brilhante Camera Work. No entanto, o meio apenas se libertou e ganhou o devido estatuto (quase digo respeito) para si próprio enquanto expressão artística, quando se afastou do modelo pictórico. Até aí, refém da arte tradicional, não se havia conseguido impor como arte. A fotografia, apesar de, a par de outras artes se manifestar visualmente, possui uma linguagem própria. E é dentro desta linguagem que existem as grandes fotografias, grosso modo, as que recordamos. O olhar alterado é afinal um olhar humano que a câmara fotográfica amplifica em absoluto. Não existem limites para o que pode criar.
Artigo publicado no Cultura.Sul [http://www.postal.pt/category/cultura-sul/] em 04-08-2017 no espaço reservado à ALFA [http://www.alfa.pt].
Poète maudit
Poète maudit… existe um inexorável romantismo nestas palavras. Quem consegue resistir-lhe? Facilmente a nossa mente viaja para terras distantes e surgem nomes como Rimbaud, Van Gogh, Genet… Nem todos foram poetas mas todos foram, à sua maneira, grandes artistas. O cimento que os une é o de vidas corrosivas e autodestrutivas à margem de uma sociedade encarada como alienante. E fotógrafos? Quem são os fotógrafos malditos? Entremos, sem receio, numa categoria hermética e empírica e deixemos o contributo de alguns nomes. Sally Mann: entre 1984 e 1991 Sally fotografou os seus três filhos de uma forma desconcertante, bela e, para alguns, obscena. Uma marca indelével num grande artista é não ser consensual. “Immediate Family” é tudo menos consensual. Pode, e talvez deva, ser visto como um trabalho magistral sobre a beleza e o mistério do transitório. Diane Arbus: Arbus seguiu um conceito pela primeira vez explorado por Jacob Riis em 1880. Ver e mostrar “o outro lado”. Enquanto Riis fotografou os miseráveis, Diane entrou na intimidade dos “inadaptados”. Volátil, tímida e susceptível a episódios de depressão, que acabariam por conduzi-la ao suicídio, atingiu a maioridade artística na década de 60 com trabalhos, hoje absolutamente icónicos, sobre os marginalizados ou simplesmente “diferentes”. Masahisa Fukase: Fukase é menos conhecido do que as anteriores. Muitas vezes um único trabalho define um artista, e os fotógrafos não são exceção. “Corvos” (ou “A Solidão dos Corvos”), de 1986, puxa-nos até aos limites do isolamento enquanto explora novos níveis de abstração. Fukase disse sobre este livro: “Estou a desejar poder parar o mundo. Este ato [o da fotografia] pode representar o meu próprio exercício de vingança contra a vida e talvez seja isso o que eu mais gosto”. No final do projeto escreveu “tornei-me um corvo”.
Artigo publicado no Cultura.Sul [http://www.postal.pt/category/cultura-sul/] em 09-02-2018 no espaço reservado à ALFA [http://www.alfa.pt].
A linha impossível
Gosto de olhar para uma fotografia e pensar que estou perante uma interpretação da realidade – toda a fotografia é interpretação -, mas que a realidade que se ofereceu à câmera e ao fotógrafo se mantém, nessa imagem, intocada na sua essência. Por outro lado, tenho a tendência de encarar uma imagem substancialmente manipulada como algo que, inevitavelmente, se afastou do que é a fotografia.
O facto de uma imagem ter por base a técnica fotográfica faz dela, sempre e incondicionalmente uma fotografia?
A manipulação fotográfica existe desde que a fotografia existe porque a arte pictórica, até aí, era uma arte de idealização. Num quadro, o pintor sempre colocou o que quis e sempre excluiu o que não queria incluir. Deste racional, absolutamente arreigado no nosso subconsciente estético coletivo, deriva o gosto, nem sempre muito saudável, das imagens belas, perfeitas, idealizadas, ideal este que, bem ou mal, positiva ou negativamente, contamina inelutavelmente a fotografia.
A realidade por sua vez, não obstante o filtro da objetiva que, apesar de tudo, segue a tradição pictórica renascentista da perspetiva, contraria a fantasia. Deste modo, a fotografia realista – o fotojornalismo essencialmente – vive, tal como Dâmocles com a espada, com o fantasma da manipulação fotográfica sobre a cabeça.
É pois facílimo ficarmos divididos relativamente a esta questão. O mais difícil é termos respostas claras sobre a mesma sem cairmos no mais fácil, que são os extremos. Esta dificuldade advém do facto de que entrámos, sem querer, no domínio do subjetivo, do gosto, da opinião. Não é possível traçar linhas limite. Nunca será.
Resta-nos assim o mais universal dos princípios: o bom senso. E o prazer. O prazer de admirar uma imagem bem construída, que fala connosco, “que te faz ir mais além, que habita em ti…”.
Silêncio
Em 1952 John Cage criou uma das peças “musicais” mais surpreendentes de todos os tempos. Quando 4’33” é executada os músicos permanecem simplesmente diante dos instrumentos sem os tocar. Por este motivo a peça é sistematicamente, e erroneamente, identificada como sendo quatro minutos e meio de silêncio. 4’33” é sobre muitas outras coisas para além de silêncio.
Com efeito, não precisamos de ouvir vozes dentro da nossa cabeça para sabermos que o silêncio é, mais do que uma possibilidade, uma ideia. Logo que nascemos começamos a ouvir o mundo mesmo antes de o vermos, pelo menos com alguma nitidez. Costumamos também dizer que é importante escutar a nossa própria voz, não significando isso que devemos pensar em voz alta. A nossa própria voz é audível mas somente dentro de nós. Analogamente uma fotografia – quer material porque impressa, quer desmaterializada e vista num ecrã – é, por si só, um objeto mudo. Não traz, por norma, nenhum som agregado. Mas, tal como a peça de Cage, uma fotografia é tudo menos um objecto sem voz mesmo que não articule nenhum som.

A nível simplificado podemos, a partir de uma imagem estática, imaginar o som do martelo batendo na peça de cobre que nasce das mãos de um caldeireiro ou o rugir da tempestade no momento em que se formou o Neptuno do Faial.
A um nível mais complexo, é por entre o mutismo de uma imagem fotográfica que surge a voz que aguarda dentro da mesma com uma estranha paciência e que um dia, quando finalmente nos confrontamos com essa imagem, inicia uma prodigiosa conversa connosco.
Da mesma forma que Cage nos ensinou de um modo simples mas brilhante a importância do silêncio na música, podemos agora pensar em diálogo e deixar de ver uma fotografia como uma simples imagem. Todas as conversas se traduzem em som. E existem sons dentro e fora do silêncio. Vamos escutá-los.